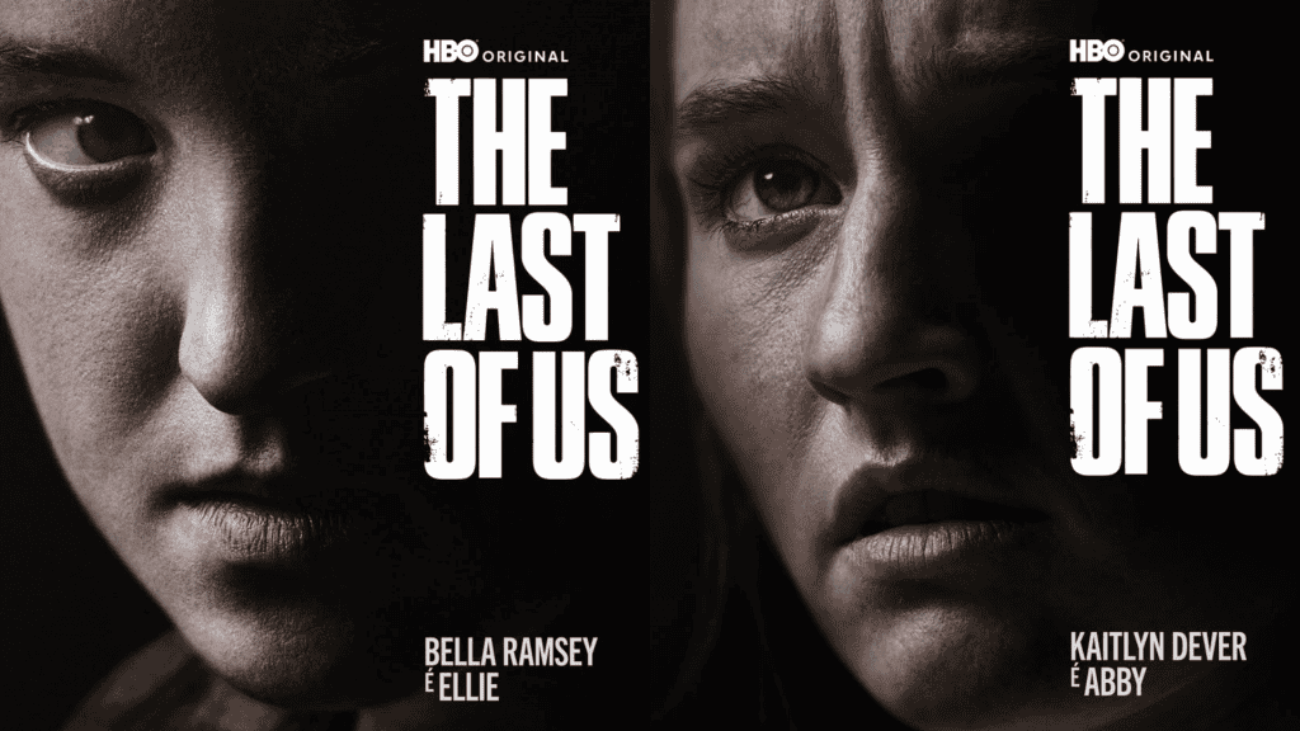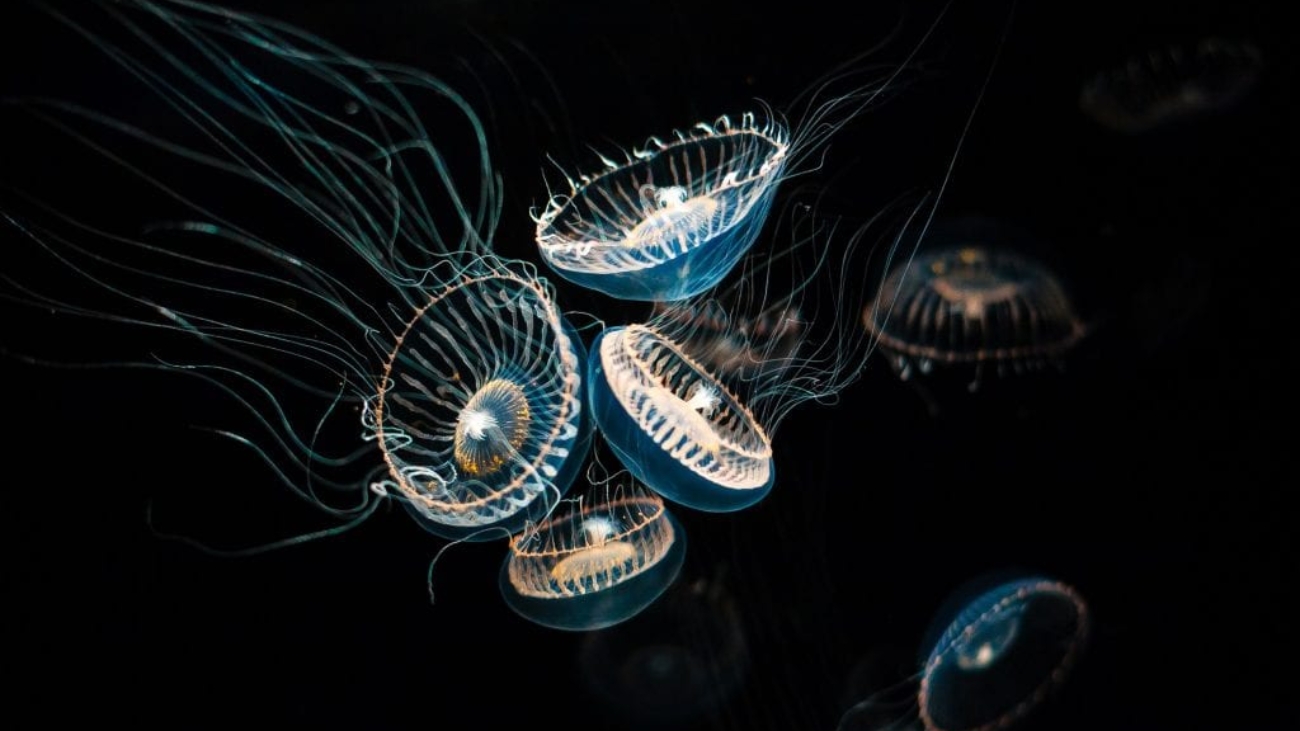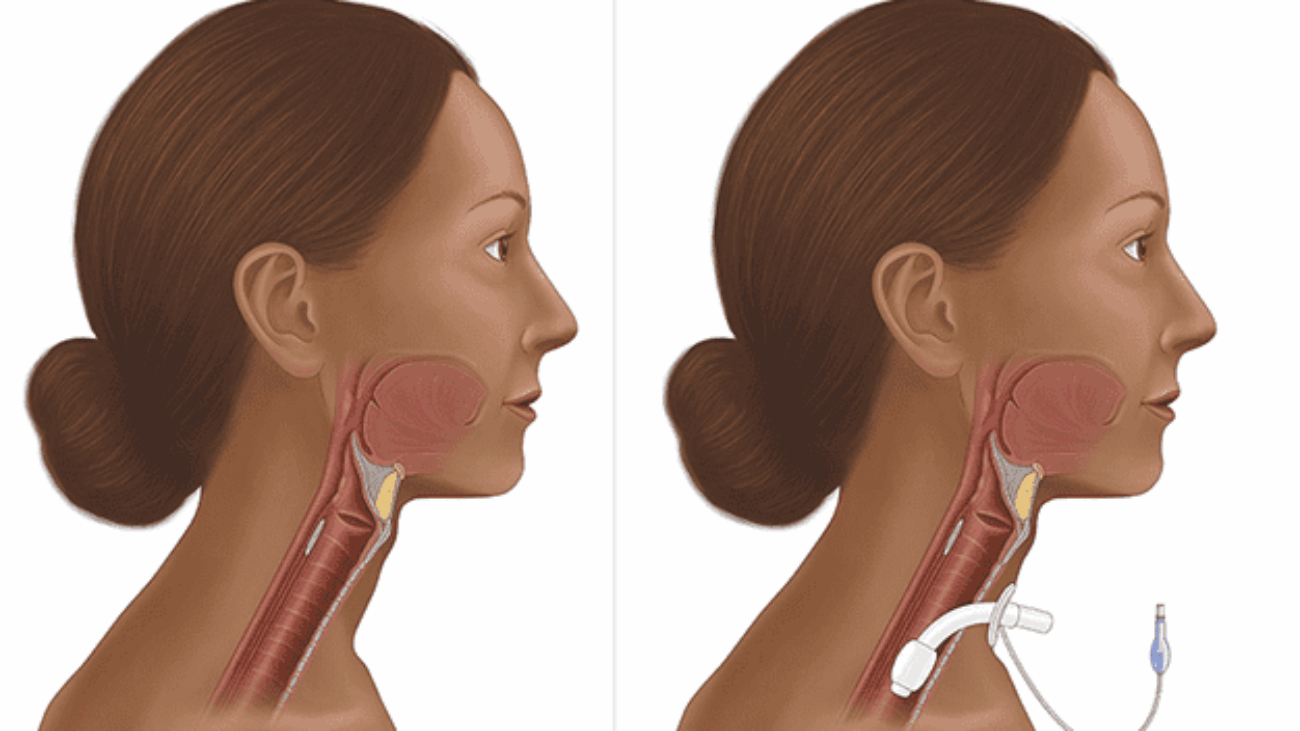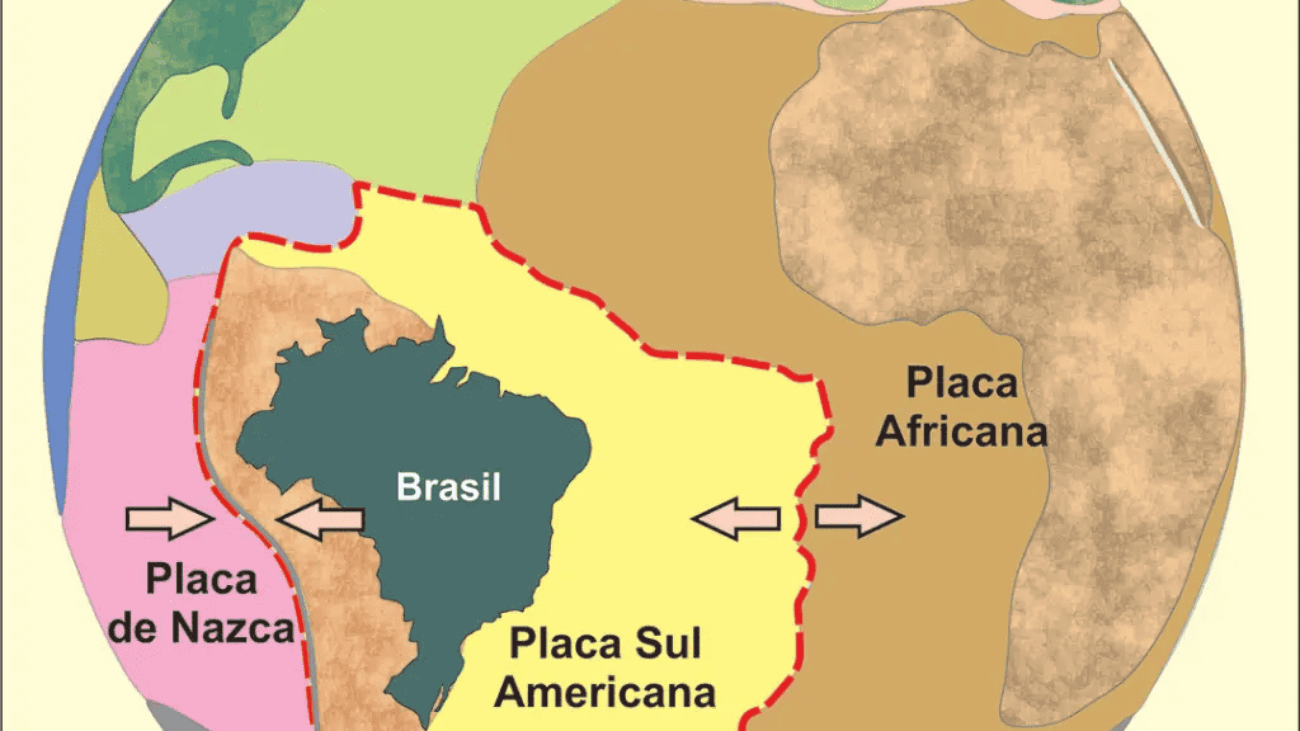As aranhas sempre despertaram fascínio e medo na mesma medida. Suas teias complexas, habilidades únicas e aparência peculiar já renderam incontáveis curiosidades – e até filmes de terror.
Apesar da má fama, a verdade é que, entre as quase 50 mil espécies de aranhas conhecidas no mundo, apenas uma pequena fração oferece risco real aos humanos.
No Brasil, esse número é ainda mais restrito: apenas três espécies são consideradas perigosas. A seguir, mostramos quais são elas, os cuidados essenciais e o que fazer para evitar acidentes.
Leia Mais:
- Amizades improváveis: entenda por que estas aranhas vivem com sapos
- Quais as maiores aranhas do mundo?
- Aranha armadeira: perigo nas bananas do mercado
Conheça as aranhas mais perigosas do Brasil
As aranhas são em sua maioria animais que evitam o confronto com humanos, sobretudo as menores. A tendência é que ela reaja apenas quando incomodada ou apertada. O Brasil tem em média 30 mil acidentes por ano, com cerca de 18 óbitos. Em 2023, porém, chegamos a ter 39 mortes no país.
Dentre as quatro espécies de aranhas mais venenosas do mundo, três estão presentes no Brasil, e você as conhecerá a seguir.
Peçonhentas ou venenosas?
A diferença entre os animais venenosos e peçonhentos é que, embora ambos consigam produzir substâncias tóxicas, apenas os peçonhentos possuem estruturas capazes de inocular (injetar) essas substâncias em suas presas ou vítimas. As aranhas então pertencem ao grupo dos peçonhentos como as cobras e escorpiões.
Vamos conhecer as aranhas brasileiras que podem representar algum perigo para as pessoas.
1. Aranha Armadeira (Phoneutria)
Encontrada comumente nas folhas da bananeira, também é conhecida como “aranha bananeira”. O Guinness Book a considera a mais venenosa do mundo, pois testes com poucas quantidades do seu veneno são capazes de matar um camundongo. Seu gênero científico “Phoneutria” significa “assassina”.
É uma aranha agressiva, quando incomodada costuma levantar as patas da frente e é capaz de saltar sobre a vítima, daí o seu nome “armadeira”.
Tem cor castanho escuro, perto dos ferrões os pelos são vermelhos. Pode chegar a 15 cm de envergadura. Sua picada é dolorosa e provoca suor, arrepios, náuseas, hipotermia, visão conturbada, tontura, alterações na pressão arterial, convulsões. Nos homens pode provocar priapismo (ereção dolorosa e duradoura).
No ambiente doméstico pode procurar abrigo nos calçados, roupas e cortinas de casa. Para combater seu veneno usa-se soro antiaracnídico, que deve ser administrado o mais rápido possível para evitar complicações ou acidentes fatais.
2. Aranha viúva-negra
A viúva-negra representa risco a saúde caso venha a picar um ser humano. Presentes em praticamente todo o mundo, tem mais de 30 espécies conhecidas. O seu veneno produz dores musculares, alterações cardiorrespiratórias, tremores, náuseas e suor.
Não são agressivas e são chamadas assim porque, durante a cópula, costumam matar e devorar o macho. As fêmeas, com três centímetros de envergadura, são maiores que os machos (que não passam de 6 milímetros).

São fáceis de se reconhecer pelas cores entre preto, marrom e vermelho, possuem o desenho de uma “ampulheta” no abdômen. Com teias irregulares e grandes tem hábitos mais sedentários.
3. Aranha-marrom (Loxosceles)
Essa aranha é pequena, tem de 2 a 5 centímetros de envergadura, e é facilmente confundida com as aranhas “de banheiro” que são comuns e inofensivas, por isso talvez é a campeã em acidentes no Brasil.

Se adaptam nas casas e passam despercebidas em roupas e sapatos. Presentes nas regiões Sul e Sudeste do país. Elas tem formato de pera, e o tom da sua coloração é marrom, daí o seu nome.
Suas teias são irregulares e densas, parecem chumaços de algodão e têm hábitos noturnos, essa é uma diferença importante com as aranhas comuns. Elas podem se esconder em pequenas frestas, buracos na madeira, e durante o dia parecem nem existir, porém, ao anoitecer, saem das tocas e ficam a espreita de comida.
Sua picada quase não provoca dor, mas evolui em poucas horas causando necrose da pele, sem tratamento pode danificar os rins e causar a morte.
O post Quais as aranhas mais perigosas do Brasil? apareceu primeiro em Olhar Digital.
 Cart is empty
Cart is empty